No meu livro “A Filosofia dos Tropeços” (um romance amazônico que instiga mais a mim do que aos meus próprios leitores, se os tenho), em todas as tentativas neuróticas que elaborei no sentido de conceituar a solidão, eu me deparava amiúde com os sinais corriqueiros dos meus desassossegos pessoais: as ruínas da casa abandonada que mora em mim (e não eu nela); o resto de “tôco” jobiniano (sempre um pouco sozinho); o condor andino desmesurado e solitário, transfixando o continente no silêncio da estratosfera, e o parasita que não tem língua, e que dorme na nossa carne, mas que fala através do perigo que representa à vida.
Manaus – O preenchimento do denominado ‘vazio social’ não é uma tarefa desfrutável de se realizar. Aliás, no campo mental, nenhuma tarefa pode ser chamada de fácil. A solidão, de modo extraordinário, é uma sensação que ‘aperta’ a alma e que ‘espreme’ a carne. Nesses tempos de violência licenciosa então, aí é que a apertura ganha uma dimensão excruciante. Há, inclusive, os que – mesmo acompanhados – ardem na severidade da solidão. Mas nos tempos do meu velho e inesquecível amigo Áureo Nonato – grande escritor amazônico – não havia a escuridão da selvageria que vivemos hoje. Havia apenas o espaço pouco afortunado e emprestado lá da Fundação Doutor Thomas, onde ele morava nos seus derradeiros amanheceres.
Áureo gostava de viver, e o fazia com uma intensidade acima da média. Cachaceiro inveterado, fumante aporrinhado, que esfolou os pulmões senilizados com o tabaco maldito dos “Gaivotas”, um pouco mais tarde dos “Carlton’s” e dos “Hollywood’s” (quando não misturava todos), cuja fumaça da extinção ele deixava penetrar em sua alma inquieta de boêmio. Áureo era um homem só, mas não vivia só, de jeito nenhum. Havia alguns “lambaios” que o faziam se sentir um importante ‘cavaco de gente’. Eu, inclusive, era um desses raros aprendizes que iam – vez ou outra – visitar o velho escriba em seus aposentos de ‘rei das palavras’.

Eu era apenas um jovem em 1999, com uma ânsia desmedida e muito doida de tentar aprender a ser escritor. Áureo tinha alguns parentes dissipados, e tinha quase nenhum aderente que, somados todos, não dava nem meia-cuia de gente que o amasse ali na velhice derradeira. Eu sempre gostei muito de idosos, e nem sei dizer direito o porquê. Talvez, presumo, pela minha sedenta e incontrolável natureza de desejar aprender com pressa as coisas da vida. Conversávamos muito, e um dia ele me deu um original da partitura de “A Canção de Manaus” – composta por ele –, autografado com a grafia trêmula de uma cabôco que já sentia próxima a hora do descanso. Guardo-o com preciosismo até os dias de hoje.

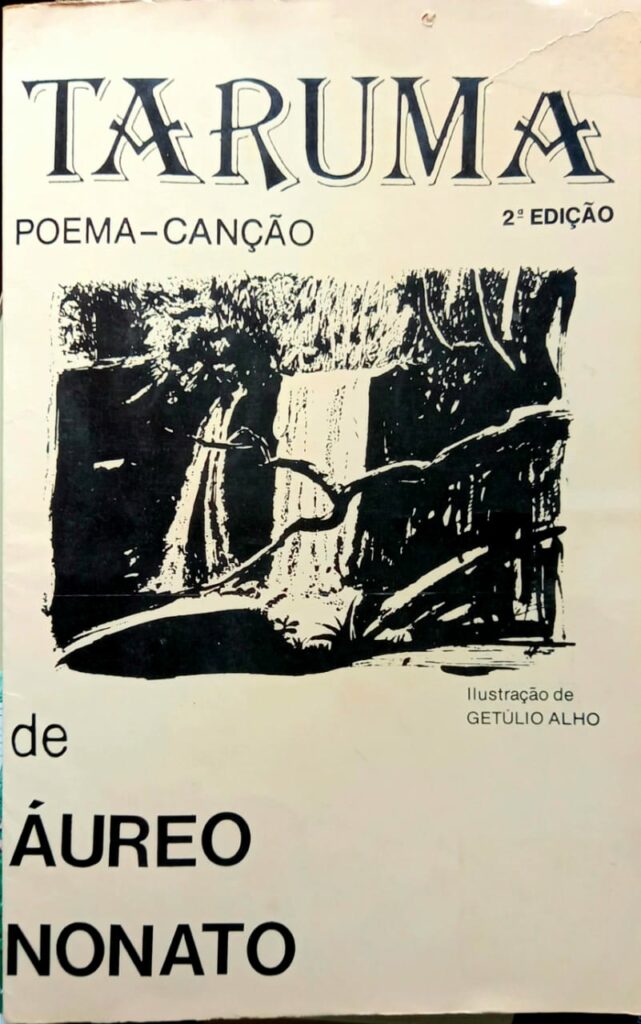
A solidão gera angústia, e Freud via nisso um mecanismo de defesa que nasce por meio do conflito entre o ego e três “úlceras” poderosas que moram em nosso âmago: os desejos do ‘id’, as imposições do superego e as exigências da realidade. É quando o cabôco precisa estar com a sua estrutura psíquica bem formada, e que seja capaz de exercitar o equilíbrio verdadeiro para lidar com essas agruras que resultam da solidão humana… É, porque até onde se sabe, e até onde a Ciência alcança elucidar, entendemos que os bichos não sentem solidão (e eu tenho as minhas dúvidas insolentes quanto a isso), sendo esse um ‘privilégio’ dos racionais. O exercício da solidão humana pode ser uma arma poderosa no sentido de afastar “diachos” em forma de almas ruins, mas, definitivamente, não é qualquer um que possui tal aptidão.
A ‘solidão’ dos bichos
Um pássaro só, desmantelado do bando, banido das colônias, excluído dos círculos da sua convivência celestial, não exerce a punição da ‘solitude’ pelas vias da tristeza ou da angústia, mas, no máximo, pelo viés da ira ou da agressividade… do instinto. Estar só para um pássaro não representa o mesmo dissabor que nós humanos experimentamos diante da solidão. Um animal, quanto mais feio ou repugnante nos parece, menos isso implicará na representação visual que ocorre entre eles mesmos, e a sua resposta para a exclusão é instintiva, e é nisso que eu creio. Contudo, muitos de nós humanos preferimos optar pelo afastamento sensorial discernido, pensado, racionalizado, por motivos múltiplos. Mas eu aceito discordâncias sobre essas minhas divagações.

Um urubu, sendo ele mais feio e mais velho do que outros de sua própria espécie, não indica em nada que ele é inferior, pois urubus não discernem no olhar, e sim no instinto. Eu não tenho a mais remota pretensão de discorrer sobre os efeitos científicos da psicologia acerca da solidão, pois não tenho moral e nem conhecimento pra tal, mas em meu juízo se configura o seguinte: o homem – ao contrário dos bichos – é sim capaz de gerar obtusa solidão nos de sua espécie, ao discriminá-los e ao exercer o menosprezo, devido à sua aparência ou condição social e intelectual. Isso cria na alma humana uma esfera geradora de indolência no corpo, uma negação em se buscar novas relações. Aí – especificamente nestes casos –, a solidão dói.
A solidão não me dói
Quando o – por muitos visto já como decrépito – Áureo Nonato, àquela altura, começou a ‘esqueletizar’ o seu mais novo e inconcluso romance “A Solidão não me Dói”, o peso desse abalo anímico da solidão já era nele ostensivamente incontestável, visível nas feições desgastadas do excelso ser humano e admirável escritor que era, e a sua aparência e comportamento diante da indignação não indicavam verossimilhança alguma com a sua temperamental forma de tentar provar o contrário.
Não era como nos vigorosos tempos de “Os Bucheiros” e “Porto das Catraias”, onde a solidão era de fato freudiana e, também, poderia ser opcional para aquele homem amazônico. A realidade era que, além de ter que deglutir os espinhos do desamparo social, ele de igual modo vociferava pela repugnância que sentia dos políticos do seu tempo, que desconsideravam a sua preciosa obra e a sua própria pessoa existencial. Asseguro que, se vivo fosse, Áureo Nonato veria que os políticos de hoje são terrivelmente indiferentes ou bem mais patifes que os do seu inglorioso tempo.
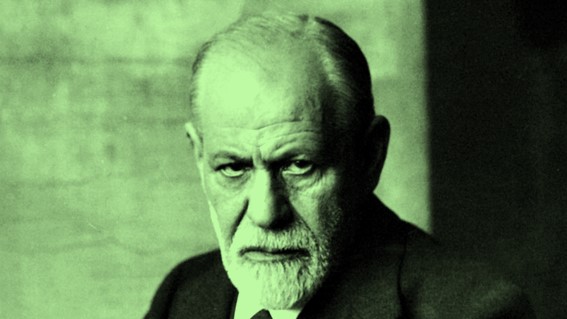
No meu livro “A Filosofia dos Tropeços” (um romance amazônico que instiga mais a mim do que aos meus próprios leitores, se é que os tenho), em todas as tentativas neuróticas que elaborei no sentido de conceituar a solidão, eu me deparava amiúde com os sinais corriqueiros dos meus pessoais desassossegos: as ruínas da casa abandonada que mora em mim (e não eu nela), o resto de “tôco” jobiniano (sempre um pouco sozinho); o condor andino desmesurado e solitário, transfixando o continente no silêncio da estratosfera, e o parasita que não tem língua, e que dorme na nossa carne, mas que fala através do perigo que representa à vida. Estes são signos semióticos que me falam mais de solidão do que a imagem de uma pessoa sozinha propriamente dita.

Áureo Nonato nunca me falou da casa velha abandonada dentro dele, provavelmente ele pensasse diferente; talvez não concordasse comigo, mas não o disse. Na verdade, nem casa ele tinha. Aliás, tinha sim, o quarto de proporções apoucadas que ele dividia com os módicos pertences que possuía. O desapego dele era equivalente à dimensão da solidão que sentia naquele senil peito magro, cheio de fumaça e de inúmeros corações. Mas, embora negasse, se apagava a saudade dos tempos em que ele era carinhosamente apelidado de “O Bucheiro”. Áureo dormia na sofreguidão de ver – num milagre onírico – o tempo voltar, para poder tomar umas e outras lá na “Bica”, reduto que o velho escritor chamava de ‘seu domicílio’.

Eu disse anteriormente: jamais quererei deixar a audácia me dirigir no sentido de falar das coisas da mente, que nem fazem os especialistas, os estudiosos do assunto. Mas confesso que tenho a livre vontade de permear o quase microscópico cérebro dos insetos para saber de verdade como eles veem a ‘solidão’. É, porque na culminância da minha ignorante maneira de conjecturar sobre o “pensamento dos bichos”, eu não duvido que uma aranha, por exemplo, cuja aparência é assustadora e providencialmente terrífica, queira viver na solidão de suas seivosas teias, apenas para não ter que gastar o seu veneno afugentando os bons insetos que se aproximam dela, como fazem alguns seres humanos tóxicos, cujas atitudes resultam em solidão para si próprios, depois de inocular no coração de alguém a peçonha do desgosto e da decepção.

Quer saber? Deixarei para os especialistas o discurso sobre a ‘solidão dos bichos’ (inclusive dos ‘bichos humanos’), porque sei que este tema é inexaurível e absolutamente vasto. Vou considerar para este meu texto – não apenas – as injunções da impassibilidade do nosso tempo. Considerarei também a própria natureza humana dos que decidem por si só sentirem o isolamento e o retraimento; a experiência intimista dos que são vítimas da solidão que emerge da exclusão e do desprezo sociais, e o comportamento dos que são penitenciados pela solidão devido à malícia, que é peculiaridade de alguns.
O que jamais deixarei mesmo de lembrar é da proscrição do velho amigo Áureo Nonato, que fez de tudo para assimilar as lições freudianas acerca da solidão, mas que aviltou de modo sumário a sua ausência total de vocação para lidar com ela, e foi despovoado de respeito e de consideração no fim de sua jornada nesta terra.
A voz, os gemidos, os queixumes nem sempre são os símbolos expressivos e determinantes da solidão. As lágrimas, a angústia, e o isolamento têm mais poder do que quaisquer outras manifestações humanas nesse sentido. Há duas décadas que o Áureo Nonato deixou de sentir solidão, porque não mais chora, nem grita e nem fala, apenas dormita nas lembranças deste quase velho escritor tefeense, que o ama e dele sente saudades. Tenho certeza que a solidão lhe doía sim.
Assista no link abaixo à entrevista (talvez única) que Áureo Nonato deu:
Da Redação: Paulo Queiroz para o Portal Voz Amazônica e para a Rádio Cultural da Amazônia.






